ninguém quer saber de Birobidzhan?
15 de Maio, a "Terceira Intifada" Palestina
Regras do fórum
Resumo dos Test Drives
FILTRAR:
Neutros: 0
Positivos: 0
Negativos: 0
Pisada na Bola: 0
Lista por Data
Lista por Faixa de Preço
Faixa de Preço:R$ 0
Anal:Sim 0Não 0
Oral Sem:Sim 0Não 0
Beija:Sim 0Não 0
OBS: Informação baseada nos relatos dos usuários do fórum. Não há garantia nenhuma que as informações sejam corretas ou verdadeiras.
-
Tricampeão
- Forista
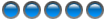
- Mensagens: 13803
- Registrado em: 22 Set 2005, 16:06
- ---
- Quantidade de TD's: 56
Ver TD's
http://www.jweekly.com/article/full/619 ... niversary/
"Israeli soldiers intercepted and boarded a ship bound for the Gaza Strip". Foi isso mesmo que aconteceu?
"with each side accusing the other of starting the violence.". Os milicos pularam no barco de paraquedas quando ele estava em águas internacionais. Existe alguma dúvida mesmo a respeito de quem começou com os atos violentos?
"Nine activists died in the incident", não se esqueçam. Nenhum milico morreu.
"Israeli military officials [...] plan to use different tactics this time.". Ou seja, sabem que na vez anterior fizeram merda.
Vejam como o periódico nazionista distorce a verdade.Gaza flotilla organizers mark anniversary
Pro-Palestinian activists on May 31 marked the first anniversary of the Gaza flotilla incident — in which Israeli soldiers intercepted and boarded a ship bound for the Gaza Strip — by gathering on the deck of the same boat, which has been refitted and is prepared to sail for Gaza again soon.
An international coalition of activists said Egypt’s removal of a 4-year-old blockade of the Gaza Strip last weekend will not affect their plans for a new flotilla, which will depart from various European ports in an attempt to breach Israel’s sea blockade. Israel says the blockade stops weapons from reaching Hamas militants, but activists describe restrictions on Gaza’s 1.5 million residents as a human rights violation.
“The Gaza shore has to be free. That’s why we are sailing there,” Vangelis Pisias, a Greek organizer, said at a news conference on the Mavi Marmara, a ship that was boarded by Israeli commandos before dawn on May 31, 2010. Nine activists died in the incident, with each side accusing the other of starting the violence.
Pisias said an aid convoy would sail in “20 days,” though IHH, the Islamic group that operates the Mavi Marmara, has said only that the third week of June was the target date for departure.
Israeli military officials said troops have been training for months to intercept any flotilla, and plan to use different tactics this time. The officials refused to elaborate.
Turkish government officials said they will not block activists from setting sail on the Mavi Marmara from a dock on the Golden Horn, an inlet in Istanbul.
"Israeli soldiers intercepted and boarded a ship bound for the Gaza Strip". Foi isso mesmo que aconteceu?
"with each side accusing the other of starting the violence.". Os milicos pularam no barco de paraquedas quando ele estava em águas internacionais. Existe alguma dúvida mesmo a respeito de quem começou com os atos violentos?
"Nine activists died in the incident", não se esqueçam. Nenhum milico morreu.
"Israeli military officials [...] plan to use different tactics this time.". Ou seja, sabem que na vez anterior fizeram merda.
| Link: | |
| Esconder link da mensagem |
-
Fortimbrás
- Forista
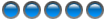
- Mensagens: 3715
- Registrado em: 06 Mar 2004, 20:42
- ---
- Quantidade de TD's: 33
Ver TD's
Re: 15 de Maio, a "Terceira Intifada" Palestina
Israelenses cada vez mais se resignam a uma vida sem paz
Juliane von Mittelstaedt
Houve um tempo em que Israel estava ansioso para atingir um acordo de paz com os palestinos. Agora, entretanto, a maioria da população do país parece ter desistido da esperança. Enquanto os jovens árabes se rebelam contra regimes autocráticos na região, a apatia se alastra em Israel.
Panfletos dizendo “Masbirim Israel”, ou “Explique Israel”, são distribuídos no aeroporto de Tel Aviv há vários meses. Eles não são para os turistas, mas para os israelenses. O governo quer que eles façam uma campanha no exterior para angariar mais simpatia para seu país. A pequena brochura aconselha: use um mapa para explicar a vulnerabilidade de Israel! Mostre fotos de casa! Conte sua história pessoal! Surpreenda seus ouvintes com fatos como este: o pen drive, o Windows XP e os tomates cereja foram todos inventados em Israel, e o país está em primeiro lugar em número de patentes e abertura de novas empresas.
Isso se chama “hasbara” em hebraico. Os viajantes devem se tornar cidadãos embaixadores de seu país, explicando-o, fazendo campanha em prol dele, e, se necessário, justificando suas ações.
A explicação é urgentemente necessária. Israel e o resto do mundo se separaram nos últimos anos. Israel se sente isolado, criticado e incompreendido – e parece acreditar que isso não é um problema de conteúdo, mas sim da forma como é retratado.
O resto do mundo, entretanto, vê um país que aparentemente não tem pudores em violar a lei internacional, que continua expandindo seus assentamentos na Cisjordânia, impôs um bloqueio sobre uma região inteira e interceptou uma frota de ativistas pelos direitos humanos em alto mar. Israel também é visto como um país cujo ministro de interior agita a população contra “intrusos” da África, e no qual o ministro de exterior é um homem a quem 60% dos israelenses consideram responsável pelo “aumento do nacionalismo extremo e de tendências quase fascistas.”
Israel está numa crise de relações públicas, uma vez que o país enfrenta uma crescente falta de compreensão, principalmente na Europa, mas também em partes dos Estados Unidos, seu forte aliado. Quem é capaz de entender por que as revoluções nos vizinhos árabes fizeram Israel cair num estado de autismo político? Por que ele rejeita virulentamente todas as críticas? E por que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu discutiu na semana passada com o presidente dos EUA, Barack Obama, o homem mais poderoso do mundo, por conta de um conceito que está além de disputas há anos: a volta para as fronteiras de 1967 e a troca de territórios?
Histórico?
O discurso que Netanyahu deu no Capitólio na terça-feira foi anunciado previamente como um discurso histórico. O premiê supostamente tinha intenção de se aproximar dos palestinos e convencê-los de não levarem adiante seu plano de declarar independência unilateral em setembro.
Mas o que Netanyahu ofereceu apenas contribuiu para mais distanciamento. Ele falou de uma “oferta generosa” e “concessões dolorosas”, e ainda assim não houve um onde, como ou quando para suas promessas. Foi um discurso com o objetivo de unir a difícil coalizão em seu país e preservar seu poder, com um tom tão deliberadamente intransigente que depois do discurso os palestinos rejeitaram prontamente a ideia de negociar.
Não é apenas Netanyahu. Um grande segmento de seu país vive aparentemente uma existência paralela. Quando Obama falou à organização lobista de judeus norte-americanos AIPAC no domingo retrasado, homens e mulheres se manifestaram na orla de Tel Aviv com cordas em volta dos pescoços, gritando: “não nos enforque, Obama”. Um dia depois do discurso de Netanyahu, quatro ministros de gabinete, o porta-voz do Knesset e um ex-rabino chefe se reuniram para celebrar a conclusão de 60 novas unidades residenciais no leste de Jerusalém, no assentamento judeu de Maale Hazeitim no bairro de Arab Ras al-Amud, o que só esquentará ainda mais o conflito.
Pesquisas de opinião feitas no dia seguinte enfatizaram ainda mais a contradição: embora 57% dos israelenses disseram acreditar que o primeiro-ministro deveria ter respondido à proposta de paz de Obama, 51% disseram que estavam satisfeitos com o desempenho dele em Washington.
Fora de controle, mas admirável
Por que uma maioria de israelenses apoia uma política que aparentemente contradiz seus desejos, uma política que não tem a intenção de terminar o conflito e que prejudica os israelenses mais do que ninguém? A alternativa a uma solução de dois estados seria um estado binacional, no qual os palestinos tornar-se-ão a maioria num futuro não muito distante. O que está acontecendo neste país, que, apesar de ser do tamanho do estado norte-americano de Nova Jersey, domina a atenção do mundo inteiro de uma forma tão única? Um país que atualmente parece ter saído de controle, e ainda assim continua sendo tanto admirável quanto excepcional?
Esta é uma questão para Tom Segev, 66, o historiador mais conhecido de Israel; é imprescindível olhar para o passado para entender o Israel moderno. Segev recebeu seus convidados em seu apartamento no oeste de Jerusalém, que tem vista para dois muros, um velho e um novo. O muro antigo cerca a cidade velha, um lugar de peregrinação para três religiões mundiais, enquanto que o muro novo confina os palestinos dentro da Cisjordânia.
O grande intérprete da história israelense parece ter se cansado de seu papel – como se ele também não fosse mais capaz de entender seu país, ou como se o entendesse muito bem. “Pela primeira vez na minha vida, penso da mesma maneira que a maioria dos israelenses”, disse ele no começo da conversa. “Não vejo mais a possibilidade de paz.” Há dez anos, Segev descreveu a moderna sociedade israelense em seu livro “Elvis em Jerusalém”. Mas hoje ele diz: “Esqueça. Eu estava errado. Eu imaginava que as coisas só pudessem melhorar.”
Então qual é o motivo pelo qual Israel e o resto do mundo se estranharam tanto nos últimos anos? “Somos tão irracionais, porque este é um país louco. Tudo que fazemos vai contra nossos interesses, que é viver num estado judeu e democrático, em paz com nossos vizinhos”. E o motivo para isso, diz ele, é bem simples: “temos mais a perder nesse conflito do que os palestinos”.
Poder nuclear e um país de novas empresas
Até hoje, Israel é um país em estado de emergência. Metade de suas fronteiras ainda não estão determinadas, cada casa tem um cômodo de segurança e todo cidadão têm uma máscara de gás no armário. É um país em que homens e mulheres são convocados para o serviço militar, onde há em média um enterro para cada 17 soldados mortos e onde um soldado foi sequestrado pelo Hamas há cinco anos e foi mantido numa cela em algum lugar em Gaza desde então.
Israel também é um país que, por um lado, desenvolveu uma democracia liberal, mas, por outro, manteve seus vizinhos sob ocupação e coerção militar por 44 anos. É tanto uma potência nuclear e uma nação de novas empresas, que produziu mais laureados pelo Nobel do que todo o mundo árabe, mas também um país em que os teólogos definem a cidadania e onde não há casamento civil, constituição e direito a asilo.
Três eventos influenciaram profundamente o país, disse Segev, sentado em seu sofá com uma cópia da declaração de independência de Israel enquadrada e pendurada na parece acima de sua cabeça: a ocupação da Cisjordânia desde a Guerra dos Seis Dias em 1967, a imigração da antiga União Soviética nos anos 90 e o fracasso do processo de paz de Camp David em 2000.
A ocupação já dura dois terços da história do Estado de Israel, e em todos esses anos ela também mudou o ocupante, suas instituições e sua forma de pensar. Prisioneiros são maltratados, enquanto o governo apoia assentamentos ilegais e ignora as determinações do Supremo Tribunal israelense sobre a desocupação de assentamentos. Isso acostumou o público israelense a uma constante violação da lei, que precisa de uma justificativa. A justificativa fornecida é que a ocupação é essencial para a sobrevivência da nação israelense. Mas os israelenses esqueceram que David Ben-Gurion, o fundador da nação, foi contra a tomada da Cisjordânia, porque a viu como uma fonte potencial de desastre.
Uma vida sem paz é possível?
Os quase um milhão de imigrantes da antiga União Soviética trouxeram a obediência à autoridade para o país, o que apenas amplifica as consequências negativas da mentalidade de ocupação. Pesquisas mostram que os recém-chegados rejeitam os direitos iguais para os árabes e preferem ter um homem forte como líder. Como resultado, muitos deles votaram em Avigdor Lieberman, uma versão israelense do primeiro-ministro russo Vladimir Putin e chefe do partido direitista Yisrael Beiteinu (Isarel é Nosso Lar). Lieberman é ministro de relações exteriores de Israel há dois anos.
O fracasso do acordo de paz de Camp David, mediado pelo presidente norte-americano Bill Clinton, entre o ex-líder da OLP Yasser Arafat e o então primeiro-ministro israelense Ehud Barak, contribuiu em grande parte para a atual paralisia política. Quando Barak voltou para casa, ele anunciou que os palestinos rejeitaram sua “generosa oferta” e que “não eram parceiros para a paz”.
Isso foi aparentemente confirmado pelos anos de ataques suicidas que se seguiram, que só convenceram os israelenses de que eram eles que queriam a paz, enquanto os palestinos queriam o terror. Vários anos depois, a mesma crença foi reconfirmada quando os israelenses evacuaram seus assentamentos em Gaza e os palestinos responderam lançando foguetes em território israelense. Mas o que a mídia ignorou com frequência e o público israelense tende a esquecer é que Israel também cometeu erros, que a segunda Intifada foi em parte uma reação à violência israelense, e que nem a oferta israelense em Camp David nem a retirada da Faixa de Gaza foram particularmente “generosas”.
Um problema técnico
Os ataque suicidas também engendraram desapontamento, medo e ódio – e, acima de tudo, indiferença aos palestinos – também entre muitos liberais israelenses. Entretanto, a paz à custa do compromisso parecia necessária, uma vez que os ataques continuavam. Mas uma vez que eles terminaram, muitos israelenses preferiram a atual calma ao esforço e à incerteza associados a um tratado de paz. E desde que uma barreira de segurança foi erguida e o sistema de defesa anti-mísseis Iron Dome foi instalado, a falta de paz parece mais um problema técnico que pode ser controlado.
“Da perspectiva de Israel, uma vida sem paz agora é possível. Há pouco terrorismo, não há guerra, e não há grandes decisões que possam desencadear discussões na mesa do café da manhã”, diz Segev. “Netanyahu é tão forte, porque persegue uma política de não fazer nada quanto aos palestinos. E ele conseguiu transformar essa política num consenso.”
A sensação de estar num constante estado de emergência ajuda a reforçar esse consenso. Ninguém tem tantos inimigos quanto Israel, nenhum outro país foi ameaçado de ser varrido da face da terra pelo Irã, e em nenhum outro lugar do mundo existe o trauma tão profundamente enraizado do extermínio de um povo. Para uma nação que teme constantemente por sua sobrevivência, tudo que faz é auto-defesa. A direita, por exemplo, refere-se às fronteiras de 1967 como “as fronteiras de Auschwitz”, sugerindo portanto que o fim da ocupação da Cisjordânia colocaria em risco a própria existência de Israel.
“Os políticos estão usando o Holocausto cada vez mais para criar medo”, diz o historiador Segev. Isso, ele acrescenta, faz com que um político que acredita na paz e na coexistência parecer ingênuo e inelegível em Israel hoje – ou mesmo alguém que está traindo seu próprio povo.
“O perigo real está aqui e agora”
Mordechai Kremnitzer, 62, conhece bem as consequências desse ciclo vicioso de paranóia. Vice-presidente do Instituto de Democracia Israelense, Kremnitzer alerta, quase diariamente, contra uma “democracia de dieta”. Ele diz: “o momento de perigo real é aqui e agora”.
Nos meses recentes, o Knesset, o parlamento israelense, adotou várias iniciativas dirigidas contra os árabes israelenses, que representam um quinto da população. Na peça mais recente de legislação, a lei Nakba foi aprovada no final de março, as escolas ou comunidades árabes que celebravam a fuga e expulsão dos palestinos depois da fundação de Israel podem ser penalizadas com a negação de financiamento do governo. Novos cidadãos precisam agora jurar um testemunho de aliança ao “estado judeu e democrático”. Pequenos vilarejos no deserto de Negev e na Galileia também receberam o direito de rejeitar novos moradores que não se “encaixam” na comunidade. Isso permitirá às comunidades judaicas rejeitarem os árabes no futuro sem violar o princípio de igualidade.
“Agora que o conflito é cada vez mais visto como uma disputa existencial entre dois projetos nacionais, os árabes israelenses são vistos como um inimigo internacional”, diz Kremnitzer. Uma distinção tão rigorosa entre amigo e inimigo divide a sociedade. Enquanto os assentados que atacaram soldados durante a retirada da Faixa de Gaza foram perdoados pela lei de anistia, os esquerdistas são enviados para a prisão por coisas tão pequenas como participar de protestos não-autorizados.
Categoricamente contra eles
A maioria da população não protesta. Isso, diz Kremnitzer, deve-se em parte porque os ultra-direitistas conseguiram tachar todos que discordam deles de desleais ou impatriota. De acordo com a atitude mental, cada vez mais aceita como conhecimento comum, as críticas não são simples críticas, mas em vez disso vêm de uma hostilidade fundamental. De acordo com uma pesquisa, mais da metade dos israelenses acreditam que o mundo está categoricamente contra eles, independente das políticas do país.
Por exemplo, Richard Goldstone, um juiz internacionalmente respeitado da África do Sul que foi nomeado para chefiar a missão de investigação da ONU sobre a guerra de Gaza, foi vilificado como um judeu que se odeia e é anti-sionista. No final de março, membros do Knesset debateram seriamente a questão de se o J Street, um grupo judeu lobista nos EUA que condena a construção de assentamentos, deveria poder se classificar como “pró-israelense”. Alguns críticos estão sendo proibidos de entrar no país, mesmo que sejam judeus proeminentes, como o linguista Noam Chomsky e o cientista político Norman Finkelstein.
O jornalista norte-americano Jeffrey Goldberg perguntou recentemente: “e se Israel deixar de ser uma democracia?” Ele desenha um cenário que não é mais improvável.
“Digamos apenas, como hipótese, que um dia no futuro próximo, o governo do primeiro-ministro Lieberman (não ria, não é engraçado) propôs um projeto de lei que ecoa o pedido recente de alguns rabinos para desencorajar os judeus de vender suas casas para os árabes”, escreveu Goldberg. “Ou digamos que o governo de Lieberman anexe partes da Cisjordânia para incorporar assentamentos judeus, mas anuncia sumariamente que os árabes no território anexado são na verdade cidadãos da Jordânia, e podem votar lá se quiserem, mas não poderão votar em Israel. O que acontecerá então? Os tribunais virão resolver a situação? Espero que sim. O povo israelense resolverá a situação? Não tenho tanta certeza.”
Esperança para o futuro
Israel ainda é um país livre, com uma democracia dinâmica, uma imprensa livre e um judiciário independente. Mas basta dirigir de Tel Aviv a Jerusalém para ver que também há um mundo alternativo dentro de Israel, um no qual um em cada dez israelenses vivem. É o mundo dos judeus ultra-ortodoxos, de homens vestidos de ternos pretos e mulheres de perucas, segurando seus filhos pelas mãos. A maioria deles preferiria uma teocracia.
Quando uma foto do presidente norte-americano e seus conselheiros foi publicada depois da morte de Osama Bin Laden, não foi um jornal saudita mas um jornal israelense ultra-ortodoxo que usou o Photoshop para apagar a imagem da secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton – porque os homens ortodoxos são proibidos de olhar para mulheres não familiares.
Ao mesmo tempo, o conflito aparentemente intratável facilitou a mescla de religião e nacionalismo, com os judeus ortodoxas antes politicamente moderados tomando o lado dos assentados de direita. Líderes rabinos estão lutando contra os tribunais do governo e convocando o público a desobedecer ordens emitidas pelo exército. Representantes desse campo nacionalista-religioso detém posições-chave no parlamento, no exército e na sociedade. Um deles é o novo conselheiro de segurança nacional, por exemplo, que de acordo com o Ha'aretz, disse numa conferência que qualquer um que tentar interromper uma missão militar, mesmo um soldado, deveria ser morto.
Estranhamente sem resposta
Secularistas, nacionalistas e os religiosos estão lutando pelo caráter na nação, e sobre o quão judia ou democrática ela deve ser. Depois de 63 anos, essa questão continua estranhamente sem resposta, e, entretanto, o futuro de Israel e da Cisjordânia depende dela. Será que Israel pode ser democrático se continuar a ocupar os territórios ocupados? Por outro lado, será que Israel pode ser judeu se abrir mão das regiões bíblicas da Judéia e Samaria?
De forma alguma está certo que a democracia irá prevalecer. A conexão bíblica com a terra se juntou à narrativa secular da ocupação e é mais importante hoje do que eram em 1967. É por isso que faz perfeito sentido para um primeiro-ministro israelense usar as histórias de Abraão, Davi e Isaías para justificar a reivindicação de Israel pela Cisjordânia. Entretanto, os políticos se tornam mais irracionais onde a religião está envolvida.
No fim, a demografia provavelmente decidirá o resultado desse conflito. Os assentados e os ultra-ortodoxos são os que têm mais filhos. Israel tem uma taxa de natalidade mais alta do que a Líbia, e em algumas cidades até 64% dos habitantes são crianças.
E o que dizer as esquerda de Israel, seus ativistas pela paz, artistas, empresários e liberais? O que aconteceu com a maioria silenciosa e secular do país?
As velhas elites, que antes dominaram a política da paz, retiraram-se em grande parte do processo político. A maior parte foi para Tel Aviv, o enclave liberal onde os palestinos, assentados e judeus ortodoxos parecem igualmente distantes. Eles tem mais chances de se envolverem em causas ambientais do que nos partidos políticos. Tel Aviv também é o lar daqueles que desfrutam da expansão econômica e de seus benefícios, incluindo muitos restaurantes novos, spas e bares de vinhos que abriram nos anos recentes. A cidade efervescente, movimentada e agitada de Tel Aviv é sinônimo dessa fuga da política.
Mais esperto que os políticos
Isso em parte é resultado de uma sensação comum de que os partidos e os políticos são corruptos. Dificilmente um político proeminente não enfrentou um escândalo nos últimos anos. Netanyahu foi acusado de aceitar estadias em hotéis de luxo pagas por outros. O ministro Lieberman enfrenta um processo por desfalque e lavagem de dinheiro. E também há o caso de Moshe Kazaw, o ex-presidente, que foi condenado a sete anos de prisão por estupro.
Seria fácil chamar Israel de uma nação corrupta, mas não é tão simples, na verdade. “Há muito exagero no que diz respeito à corrupção”, diz Yossi Shain, cientista político da Universidade de Tel Aviv. “Caçar pessoas com acusações de corrupção se tornou o esporte nacional de nossa comunidade”. De acordo com a Transparência Internacional, servidores civis são menos suscetíveis a aceitarem propinas em Israel do que na França, e o país tem uma classificação mais favorável do que a Itália e a Grécia.
E se a corrupção não é tão comum quando parece à primeira vista, será que a obstinação ideológica não é tão dominante quanto parece?
A intransigência, o extremismo nacionalista e religioso pinta um quadro sombrio que na verdade não coincide com o clima otimista do país. Numa pesquisa sobre o quanto as pessoas estão satisfeitas com suas vidas, por exemplo, Israel ficou em nono lugar, bem na frente da Alemanha. Isso também faz parte do quadro que é tão difícil de entender fora de Israel.
É claro, ainda há esperança para o futuro, como outra pesquisa indica. Apesar de estar acostumado a um estado constante de guerra, e apesar de seu desprezo pelos palestinos, 67% dos judeus israelenses apoiam um plano de paz que inclui a divisão de Jerusalém e a retirada da Cisjordânia, mas apenas 47% dos membros do Knesset compartilham dessa visão.
O que isso demonstra, acima de tudo, é que por fim a maioria dos israelenses é mais inteligente do que seus políticos.
Tradução: Eloise De Vylder
Juliane von Mittelstaedt
Houve um tempo em que Israel estava ansioso para atingir um acordo de paz com os palestinos. Agora, entretanto, a maioria da população do país parece ter desistido da esperança. Enquanto os jovens árabes se rebelam contra regimes autocráticos na região, a apatia se alastra em Israel.
Panfletos dizendo “Masbirim Israel”, ou “Explique Israel”, são distribuídos no aeroporto de Tel Aviv há vários meses. Eles não são para os turistas, mas para os israelenses. O governo quer que eles façam uma campanha no exterior para angariar mais simpatia para seu país. A pequena brochura aconselha: use um mapa para explicar a vulnerabilidade de Israel! Mostre fotos de casa! Conte sua história pessoal! Surpreenda seus ouvintes com fatos como este: o pen drive, o Windows XP e os tomates cereja foram todos inventados em Israel, e o país está em primeiro lugar em número de patentes e abertura de novas empresas.
Isso se chama “hasbara” em hebraico. Os viajantes devem se tornar cidadãos embaixadores de seu país, explicando-o, fazendo campanha em prol dele, e, se necessário, justificando suas ações.
A explicação é urgentemente necessária. Israel e o resto do mundo se separaram nos últimos anos. Israel se sente isolado, criticado e incompreendido – e parece acreditar que isso não é um problema de conteúdo, mas sim da forma como é retratado.
O resto do mundo, entretanto, vê um país que aparentemente não tem pudores em violar a lei internacional, que continua expandindo seus assentamentos na Cisjordânia, impôs um bloqueio sobre uma região inteira e interceptou uma frota de ativistas pelos direitos humanos em alto mar. Israel também é visto como um país cujo ministro de interior agita a população contra “intrusos” da África, e no qual o ministro de exterior é um homem a quem 60% dos israelenses consideram responsável pelo “aumento do nacionalismo extremo e de tendências quase fascistas.”
Israel está numa crise de relações públicas, uma vez que o país enfrenta uma crescente falta de compreensão, principalmente na Europa, mas também em partes dos Estados Unidos, seu forte aliado. Quem é capaz de entender por que as revoluções nos vizinhos árabes fizeram Israel cair num estado de autismo político? Por que ele rejeita virulentamente todas as críticas? E por que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu discutiu na semana passada com o presidente dos EUA, Barack Obama, o homem mais poderoso do mundo, por conta de um conceito que está além de disputas há anos: a volta para as fronteiras de 1967 e a troca de territórios?
Histórico?
O discurso que Netanyahu deu no Capitólio na terça-feira foi anunciado previamente como um discurso histórico. O premiê supostamente tinha intenção de se aproximar dos palestinos e convencê-los de não levarem adiante seu plano de declarar independência unilateral em setembro.
Mas o que Netanyahu ofereceu apenas contribuiu para mais distanciamento. Ele falou de uma “oferta generosa” e “concessões dolorosas”, e ainda assim não houve um onde, como ou quando para suas promessas. Foi um discurso com o objetivo de unir a difícil coalizão em seu país e preservar seu poder, com um tom tão deliberadamente intransigente que depois do discurso os palestinos rejeitaram prontamente a ideia de negociar.
Não é apenas Netanyahu. Um grande segmento de seu país vive aparentemente uma existência paralela. Quando Obama falou à organização lobista de judeus norte-americanos AIPAC no domingo retrasado, homens e mulheres se manifestaram na orla de Tel Aviv com cordas em volta dos pescoços, gritando: “não nos enforque, Obama”. Um dia depois do discurso de Netanyahu, quatro ministros de gabinete, o porta-voz do Knesset e um ex-rabino chefe se reuniram para celebrar a conclusão de 60 novas unidades residenciais no leste de Jerusalém, no assentamento judeu de Maale Hazeitim no bairro de Arab Ras al-Amud, o que só esquentará ainda mais o conflito.
Pesquisas de opinião feitas no dia seguinte enfatizaram ainda mais a contradição: embora 57% dos israelenses disseram acreditar que o primeiro-ministro deveria ter respondido à proposta de paz de Obama, 51% disseram que estavam satisfeitos com o desempenho dele em Washington.
Fora de controle, mas admirável
Por que uma maioria de israelenses apoia uma política que aparentemente contradiz seus desejos, uma política que não tem a intenção de terminar o conflito e que prejudica os israelenses mais do que ninguém? A alternativa a uma solução de dois estados seria um estado binacional, no qual os palestinos tornar-se-ão a maioria num futuro não muito distante. O que está acontecendo neste país, que, apesar de ser do tamanho do estado norte-americano de Nova Jersey, domina a atenção do mundo inteiro de uma forma tão única? Um país que atualmente parece ter saído de controle, e ainda assim continua sendo tanto admirável quanto excepcional?
Esta é uma questão para Tom Segev, 66, o historiador mais conhecido de Israel; é imprescindível olhar para o passado para entender o Israel moderno. Segev recebeu seus convidados em seu apartamento no oeste de Jerusalém, que tem vista para dois muros, um velho e um novo. O muro antigo cerca a cidade velha, um lugar de peregrinação para três religiões mundiais, enquanto que o muro novo confina os palestinos dentro da Cisjordânia.
O grande intérprete da história israelense parece ter se cansado de seu papel – como se ele também não fosse mais capaz de entender seu país, ou como se o entendesse muito bem. “Pela primeira vez na minha vida, penso da mesma maneira que a maioria dos israelenses”, disse ele no começo da conversa. “Não vejo mais a possibilidade de paz.” Há dez anos, Segev descreveu a moderna sociedade israelense em seu livro “Elvis em Jerusalém”. Mas hoje ele diz: “Esqueça. Eu estava errado. Eu imaginava que as coisas só pudessem melhorar.”
Então qual é o motivo pelo qual Israel e o resto do mundo se estranharam tanto nos últimos anos? “Somos tão irracionais, porque este é um país louco. Tudo que fazemos vai contra nossos interesses, que é viver num estado judeu e democrático, em paz com nossos vizinhos”. E o motivo para isso, diz ele, é bem simples: “temos mais a perder nesse conflito do que os palestinos”.
Poder nuclear e um país de novas empresas
Até hoje, Israel é um país em estado de emergência. Metade de suas fronteiras ainda não estão determinadas, cada casa tem um cômodo de segurança e todo cidadão têm uma máscara de gás no armário. É um país em que homens e mulheres são convocados para o serviço militar, onde há em média um enterro para cada 17 soldados mortos e onde um soldado foi sequestrado pelo Hamas há cinco anos e foi mantido numa cela em algum lugar em Gaza desde então.
Israel também é um país que, por um lado, desenvolveu uma democracia liberal, mas, por outro, manteve seus vizinhos sob ocupação e coerção militar por 44 anos. É tanto uma potência nuclear e uma nação de novas empresas, que produziu mais laureados pelo Nobel do que todo o mundo árabe, mas também um país em que os teólogos definem a cidadania e onde não há casamento civil, constituição e direito a asilo.
Três eventos influenciaram profundamente o país, disse Segev, sentado em seu sofá com uma cópia da declaração de independência de Israel enquadrada e pendurada na parece acima de sua cabeça: a ocupação da Cisjordânia desde a Guerra dos Seis Dias em 1967, a imigração da antiga União Soviética nos anos 90 e o fracasso do processo de paz de Camp David em 2000.
A ocupação já dura dois terços da história do Estado de Israel, e em todos esses anos ela também mudou o ocupante, suas instituições e sua forma de pensar. Prisioneiros são maltratados, enquanto o governo apoia assentamentos ilegais e ignora as determinações do Supremo Tribunal israelense sobre a desocupação de assentamentos. Isso acostumou o público israelense a uma constante violação da lei, que precisa de uma justificativa. A justificativa fornecida é que a ocupação é essencial para a sobrevivência da nação israelense. Mas os israelenses esqueceram que David Ben-Gurion, o fundador da nação, foi contra a tomada da Cisjordânia, porque a viu como uma fonte potencial de desastre.
Uma vida sem paz é possível?
Os quase um milhão de imigrantes da antiga União Soviética trouxeram a obediência à autoridade para o país, o que apenas amplifica as consequências negativas da mentalidade de ocupação. Pesquisas mostram que os recém-chegados rejeitam os direitos iguais para os árabes e preferem ter um homem forte como líder. Como resultado, muitos deles votaram em Avigdor Lieberman, uma versão israelense do primeiro-ministro russo Vladimir Putin e chefe do partido direitista Yisrael Beiteinu (Isarel é Nosso Lar). Lieberman é ministro de relações exteriores de Israel há dois anos.
O fracasso do acordo de paz de Camp David, mediado pelo presidente norte-americano Bill Clinton, entre o ex-líder da OLP Yasser Arafat e o então primeiro-ministro israelense Ehud Barak, contribuiu em grande parte para a atual paralisia política. Quando Barak voltou para casa, ele anunciou que os palestinos rejeitaram sua “generosa oferta” e que “não eram parceiros para a paz”.
Isso foi aparentemente confirmado pelos anos de ataques suicidas que se seguiram, que só convenceram os israelenses de que eram eles que queriam a paz, enquanto os palestinos queriam o terror. Vários anos depois, a mesma crença foi reconfirmada quando os israelenses evacuaram seus assentamentos em Gaza e os palestinos responderam lançando foguetes em território israelense. Mas o que a mídia ignorou com frequência e o público israelense tende a esquecer é que Israel também cometeu erros, que a segunda Intifada foi em parte uma reação à violência israelense, e que nem a oferta israelense em Camp David nem a retirada da Faixa de Gaza foram particularmente “generosas”.
Um problema técnico
Os ataque suicidas também engendraram desapontamento, medo e ódio – e, acima de tudo, indiferença aos palestinos – também entre muitos liberais israelenses. Entretanto, a paz à custa do compromisso parecia necessária, uma vez que os ataques continuavam. Mas uma vez que eles terminaram, muitos israelenses preferiram a atual calma ao esforço e à incerteza associados a um tratado de paz. E desde que uma barreira de segurança foi erguida e o sistema de defesa anti-mísseis Iron Dome foi instalado, a falta de paz parece mais um problema técnico que pode ser controlado.
“Da perspectiva de Israel, uma vida sem paz agora é possível. Há pouco terrorismo, não há guerra, e não há grandes decisões que possam desencadear discussões na mesa do café da manhã”, diz Segev. “Netanyahu é tão forte, porque persegue uma política de não fazer nada quanto aos palestinos. E ele conseguiu transformar essa política num consenso.”
A sensação de estar num constante estado de emergência ajuda a reforçar esse consenso. Ninguém tem tantos inimigos quanto Israel, nenhum outro país foi ameaçado de ser varrido da face da terra pelo Irã, e em nenhum outro lugar do mundo existe o trauma tão profundamente enraizado do extermínio de um povo. Para uma nação que teme constantemente por sua sobrevivência, tudo que faz é auto-defesa. A direita, por exemplo, refere-se às fronteiras de 1967 como “as fronteiras de Auschwitz”, sugerindo portanto que o fim da ocupação da Cisjordânia colocaria em risco a própria existência de Israel.
“Os políticos estão usando o Holocausto cada vez mais para criar medo”, diz o historiador Segev. Isso, ele acrescenta, faz com que um político que acredita na paz e na coexistência parecer ingênuo e inelegível em Israel hoje – ou mesmo alguém que está traindo seu próprio povo.
“O perigo real está aqui e agora”
Mordechai Kremnitzer, 62, conhece bem as consequências desse ciclo vicioso de paranóia. Vice-presidente do Instituto de Democracia Israelense, Kremnitzer alerta, quase diariamente, contra uma “democracia de dieta”. Ele diz: “o momento de perigo real é aqui e agora”.
Nos meses recentes, o Knesset, o parlamento israelense, adotou várias iniciativas dirigidas contra os árabes israelenses, que representam um quinto da população. Na peça mais recente de legislação, a lei Nakba foi aprovada no final de março, as escolas ou comunidades árabes que celebravam a fuga e expulsão dos palestinos depois da fundação de Israel podem ser penalizadas com a negação de financiamento do governo. Novos cidadãos precisam agora jurar um testemunho de aliança ao “estado judeu e democrático”. Pequenos vilarejos no deserto de Negev e na Galileia também receberam o direito de rejeitar novos moradores que não se “encaixam” na comunidade. Isso permitirá às comunidades judaicas rejeitarem os árabes no futuro sem violar o princípio de igualidade.
“Agora que o conflito é cada vez mais visto como uma disputa existencial entre dois projetos nacionais, os árabes israelenses são vistos como um inimigo internacional”, diz Kremnitzer. Uma distinção tão rigorosa entre amigo e inimigo divide a sociedade. Enquanto os assentados que atacaram soldados durante a retirada da Faixa de Gaza foram perdoados pela lei de anistia, os esquerdistas são enviados para a prisão por coisas tão pequenas como participar de protestos não-autorizados.
Categoricamente contra eles
A maioria da população não protesta. Isso, diz Kremnitzer, deve-se em parte porque os ultra-direitistas conseguiram tachar todos que discordam deles de desleais ou impatriota. De acordo com a atitude mental, cada vez mais aceita como conhecimento comum, as críticas não são simples críticas, mas em vez disso vêm de uma hostilidade fundamental. De acordo com uma pesquisa, mais da metade dos israelenses acreditam que o mundo está categoricamente contra eles, independente das políticas do país.
Por exemplo, Richard Goldstone, um juiz internacionalmente respeitado da África do Sul que foi nomeado para chefiar a missão de investigação da ONU sobre a guerra de Gaza, foi vilificado como um judeu que se odeia e é anti-sionista. No final de março, membros do Knesset debateram seriamente a questão de se o J Street, um grupo judeu lobista nos EUA que condena a construção de assentamentos, deveria poder se classificar como “pró-israelense”. Alguns críticos estão sendo proibidos de entrar no país, mesmo que sejam judeus proeminentes, como o linguista Noam Chomsky e o cientista político Norman Finkelstein.
O jornalista norte-americano Jeffrey Goldberg perguntou recentemente: “e se Israel deixar de ser uma democracia?” Ele desenha um cenário que não é mais improvável.
“Digamos apenas, como hipótese, que um dia no futuro próximo, o governo do primeiro-ministro Lieberman (não ria, não é engraçado) propôs um projeto de lei que ecoa o pedido recente de alguns rabinos para desencorajar os judeus de vender suas casas para os árabes”, escreveu Goldberg. “Ou digamos que o governo de Lieberman anexe partes da Cisjordânia para incorporar assentamentos judeus, mas anuncia sumariamente que os árabes no território anexado são na verdade cidadãos da Jordânia, e podem votar lá se quiserem, mas não poderão votar em Israel. O que acontecerá então? Os tribunais virão resolver a situação? Espero que sim. O povo israelense resolverá a situação? Não tenho tanta certeza.”
Esperança para o futuro
Israel ainda é um país livre, com uma democracia dinâmica, uma imprensa livre e um judiciário independente. Mas basta dirigir de Tel Aviv a Jerusalém para ver que também há um mundo alternativo dentro de Israel, um no qual um em cada dez israelenses vivem. É o mundo dos judeus ultra-ortodoxos, de homens vestidos de ternos pretos e mulheres de perucas, segurando seus filhos pelas mãos. A maioria deles preferiria uma teocracia.
Quando uma foto do presidente norte-americano e seus conselheiros foi publicada depois da morte de Osama Bin Laden, não foi um jornal saudita mas um jornal israelense ultra-ortodoxo que usou o Photoshop para apagar a imagem da secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton – porque os homens ortodoxos são proibidos de olhar para mulheres não familiares.
Ao mesmo tempo, o conflito aparentemente intratável facilitou a mescla de religião e nacionalismo, com os judeus ortodoxas antes politicamente moderados tomando o lado dos assentados de direita. Líderes rabinos estão lutando contra os tribunais do governo e convocando o público a desobedecer ordens emitidas pelo exército. Representantes desse campo nacionalista-religioso detém posições-chave no parlamento, no exército e na sociedade. Um deles é o novo conselheiro de segurança nacional, por exemplo, que de acordo com o Ha'aretz, disse numa conferência que qualquer um que tentar interromper uma missão militar, mesmo um soldado, deveria ser morto.
Estranhamente sem resposta
Secularistas, nacionalistas e os religiosos estão lutando pelo caráter na nação, e sobre o quão judia ou democrática ela deve ser. Depois de 63 anos, essa questão continua estranhamente sem resposta, e, entretanto, o futuro de Israel e da Cisjordânia depende dela. Será que Israel pode ser democrático se continuar a ocupar os territórios ocupados? Por outro lado, será que Israel pode ser judeu se abrir mão das regiões bíblicas da Judéia e Samaria?
De forma alguma está certo que a democracia irá prevalecer. A conexão bíblica com a terra se juntou à narrativa secular da ocupação e é mais importante hoje do que eram em 1967. É por isso que faz perfeito sentido para um primeiro-ministro israelense usar as histórias de Abraão, Davi e Isaías para justificar a reivindicação de Israel pela Cisjordânia. Entretanto, os políticos se tornam mais irracionais onde a religião está envolvida.
No fim, a demografia provavelmente decidirá o resultado desse conflito. Os assentados e os ultra-ortodoxos são os que têm mais filhos. Israel tem uma taxa de natalidade mais alta do que a Líbia, e em algumas cidades até 64% dos habitantes são crianças.
E o que dizer as esquerda de Israel, seus ativistas pela paz, artistas, empresários e liberais? O que aconteceu com a maioria silenciosa e secular do país?
As velhas elites, que antes dominaram a política da paz, retiraram-se em grande parte do processo político. A maior parte foi para Tel Aviv, o enclave liberal onde os palestinos, assentados e judeus ortodoxos parecem igualmente distantes. Eles tem mais chances de se envolverem em causas ambientais do que nos partidos políticos. Tel Aviv também é o lar daqueles que desfrutam da expansão econômica e de seus benefícios, incluindo muitos restaurantes novos, spas e bares de vinhos que abriram nos anos recentes. A cidade efervescente, movimentada e agitada de Tel Aviv é sinônimo dessa fuga da política.
Mais esperto que os políticos
Isso em parte é resultado de uma sensação comum de que os partidos e os políticos são corruptos. Dificilmente um político proeminente não enfrentou um escândalo nos últimos anos. Netanyahu foi acusado de aceitar estadias em hotéis de luxo pagas por outros. O ministro Lieberman enfrenta um processo por desfalque e lavagem de dinheiro. E também há o caso de Moshe Kazaw, o ex-presidente, que foi condenado a sete anos de prisão por estupro.
Seria fácil chamar Israel de uma nação corrupta, mas não é tão simples, na verdade. “Há muito exagero no que diz respeito à corrupção”, diz Yossi Shain, cientista político da Universidade de Tel Aviv. “Caçar pessoas com acusações de corrupção se tornou o esporte nacional de nossa comunidade”. De acordo com a Transparência Internacional, servidores civis são menos suscetíveis a aceitarem propinas em Israel do que na França, e o país tem uma classificação mais favorável do que a Itália e a Grécia.
E se a corrupção não é tão comum quando parece à primeira vista, será que a obstinação ideológica não é tão dominante quanto parece?
A intransigência, o extremismo nacionalista e religioso pinta um quadro sombrio que na verdade não coincide com o clima otimista do país. Numa pesquisa sobre o quanto as pessoas estão satisfeitas com suas vidas, por exemplo, Israel ficou em nono lugar, bem na frente da Alemanha. Isso também faz parte do quadro que é tão difícil de entender fora de Israel.
É claro, ainda há esperança para o futuro, como outra pesquisa indica. Apesar de estar acostumado a um estado constante de guerra, e apesar de seu desprezo pelos palestinos, 67% dos judeus israelenses apoiam um plano de paz que inclui a divisão de Jerusalém e a retirada da Cisjordânia, mas apenas 47% dos membros do Knesset compartilham dessa visão.
O que isso demonstra, acima de tudo, é que por fim a maioria dos israelenses é mais inteligente do que seus políticos.
Tradução: Eloise De Vylder
| Link: | |
| Esconder link da mensagem |
-
HANS_GRÜBER
- Forista
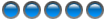
- Mensagens: 14
- Registrado em: 28 Mai 2011, 22:41
- ---
- Quantidade de TD's: 0
Ver TD's
Re: 15 de Maio, a "Terceira Intifada" Palestina
Considero particularmente interessante como a questão da eterna instabilidade política no Oriente Médio atingiu um certo nível de complexidade que praticamente estagnou as negociações entre judeus e palestinos no sentido de que fossem criados dois estados para cada um desses povos ou 01 estado laico para todos, como citado anteriormente.
Na antiguidade, a resolução desse problema seria simples: Vespasiano e Adriano que o digam!
Na antiguidade, a resolução desse problema seria simples: Vespasiano e Adriano que o digam!
| Link: | |
| Esconder link da mensagem |
-
Carnage
- Forista
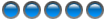
- Mensagens: 14726
- Registrado em: 06 Jul 2004, 20:25
- ---
- Quantidade de TD's: 663
Ver TD's
Re: 15 de Maio, a "Terceira Intifada" Palestina
http://www.outraspalavras.net/2011/06/3 ... re-israel/
http://www.cartacapital.com.br/politica ... s-de-bilin
Tsunami sobre Israel
Em setembro, ONU reconhecerá Estado palestino, talvez por maioria esmagadora. É o que Telavive mais teme. Como reagirá Washington?
Por Immanuel Wallerstein | Tradução: Cauê Seignemartin Ameni
Os palestinos estão perseguindo seu projeto: obter reconhecimento formal de sua soberania pela ONU, cuja Assembleia Geral vai se reunir em setembro. Querem uma declaração de que seu Estado ocupa as fronteiras de 1967 – as de antes da guerra israelense-palestina. É quase certo que o voto será favorável.
A única questão, no momento, é saber quão favoravel. A liderança política israelense está bem ciente disso. Discute três diferentes respostas. A posição dominante aparenta ser a do primeiro-ministro Netanyahu. Ele propõe ignorar totalmente tal resolução e simplesmente manter as políticas atuais. Netanyahu acredita que Israel ignorou com sucesso, por muito tempo, resoluções desfavoráveis adotadas pela Assembléia Geral. Por que agora seria diferente?
Há alguns políticos de extrema direita (sim, existe uma posição ainda mais à direita que Netanyahu) que propõem, em represália, a anexação formal, por Israel, de todos os territórios ocupados, encerrando qualquer negociação com os palestinos. Parte da extrema direita também quer forçar um êxodo de população não-judaica, a partir deste estado israelense expandido.
O ex-primeiro-ministro (e atual ministro da Defesa) Ehud Barak, cuja base política está agora quase extinta, adverte Netanyahu por estar sendo irrealista. Barak diz que a resolução da ONU será um tsunami para Israel; e que, portanto, Netanyahu deveria ter a sabedoria de fazer algum tipo de acordo com os palestinos, antes que a resolução passe.
Ehud Barak está certo? Será um tsunami para Israel? Há uma boa chance de que sim. Porém, há pouca chance real de que Netanyahu siga os conselhos de Barak e tente fazer com seriedade um acordo prévio com os palestinos.
Considere o que é provável na Assembléia Geral. Sabemos que a maioria (talvez todos) dos países da América Latina e uma parte dos países africanos e asiáticos votarão em favor da resolução. Sabemos que os Estados Unidos votarão contra e tentarão persuadir outros a votar também. Os votos incertos são os da Europa. Se os palestinos obtiverem um número significativo dos votos europeus, sua posição política será muito reforçada.
Os europeus votarão em favor da resolução? Isso dependerá em parte do que acontecer no mundo árabe nos próximos dois meses. Os franceses já sugeriram abertamente que apoiarão a resolução, exceto se virem negociações significativas entre Israel e Palestina (que não ocorrem no momento). É quase certo que os países nórdicos se juntem a eles. A posição da Grã-Bretanha, Alemanha e Holanda está mais indefinida. Se estes países decidirem apoiar a resolução, provavelmente puxarão vários países do leste europeu. Nesse caso, a resolução obterá uma vasta maioria dos votos na Europa.
Precisamos, portanto, olhar o que está acontecendo no Oriente Médio. A segunda revolta árabe ainda está em pleno andamento. Seria temerário prever exatamente quais regimes cairão e quais se aguentarão, nos próximos dois meses. O que parece estar claro é que os palestinos estão à beira de lançar uma terceira intifada. Até os mais conservadores entre eles parecem ter perdido a esperança de qualquer acordo com Israel. Esta é a mensagem clara do acordo entre o Fatah e o Hamas. Levando em conta que as populações de praticamente todos os estados árabes estão em plena revolta política contra seus regimes, como poderiam os palestinos permanecer relativamente tranquilos? Não ficarão em silêncio.
E se não permanecerem em silencio, o que os outros regimes árabes farão? Todos vivem tempos difíceis — para dizer o mínimo –, enfrentando as revoltas em seus próprios países. Apoiar taticamente a terceira intifada seria a posição mais fácil para eles, no esforço para recuperar o controle de seu próprio país. Que regime ousaria não apoiar uma terceira intifada? O Egito já se movimentou claramente rumo a esta postura. E o rei Abdullah da Jordânia deu a entender que também o fará.
Então, imagine a seqüência: uma terceira intifada, seguida pelo apoio árabe ativo, seguido por intransigência israelense. O que farão os europeus em seguida? É difícil vê-los recusar o voto a favor da resolução. Poderíamos facilmente chegar a uma votação em que apenas Israel, Estados Unidos e alguns poucos países minúsculos votariam contra a posição pró-Palestina, talvez com poucas abstenções.
Isso me parece um possível tsunami. Israel teme acima de tudo, nos últimos anos, a “deslegitimação”. Não seria essa votação precisamente o grau mais alto de deslegitimação? E o isolamento norte-americano não enfraqueceria ainda mais a posição de Washington no mundo árabe? O que farão, nesse caso, os Estado Unidos?
http://www.cartacapital.com.br/politica ... s-de-bilin
Israel devolve terra aos palestinos
Viviane Vaz, de Jerusalém 30 de junho de 2011 às 12:12h
Soldados israelenses começaram a derrubar nesta semana, com ajuda de tratores, uma parte da barreira de separação nos territórios ocupados da Cisjordânia.
Um passo atrás na cerca que significa um passo adiante para os tribunais israelenses e para os palestinos do vilarejo de Bilin. A aldeia fica a 25 quilômetros de Tel Aviv e tem sido cenário de protestos desde que a barreira de arame farpado e concreto armado foi levantada em 2002. Para o governo israelense, ela serve para prevenir a onda de ataques suicidas depois da segunda intifada, em 2000, e proteger o assentamento judaico de Modiin Illit, vizinho a Bilin. Para os palestinos, o mesmo muro é ilegal e impede o acesso às terras agrícolas.
Os proprietários das terras do vilarejo levaram o caso à Justiça israelense em 2005, um ano após o Tribunal da Haia decidir pela ilegalidade da proposta da barreira de 720 km. Em 2007, a Suprema Corte de Israel determinou que a cerca fosse transferida para o território israelense. Para concluir a medida, as Forças de Defesa de Israel (FDI) começaram a derrubar 3,2 quilômetros de barreira. E em seu lugar, começaram a levantar um muro de 2,7 quilômetros de concreto, erguido a cerca de 600 metros de Modiin Illit.
Os militares israelenses argumentam que terão menos tempo a partir de agora para reagir em caso de “uma infiltração”. “Esta é uma nova ameaça, mas podemos lidar com isso”, disse o coronel Saar Tzur. Segundo o militar, a nova barreira devolverá aos palestinos cerca de 60 hectares de terra agrícola, apesar de que ainda manterá sob domínio israelense cerca de 20 hectares do terreno.
“Além disso, 5 milhões de shekels serão colocados para restaurar o terreno adjacente a cerca de defesa anterior e prepará-lo para uso agrícola”, afirmaram as FDI por meio de nota à imprensa. O projeto de recuo do muro deve custar um total de 26 milhões de shekels.
Em Bilin, os moradores comemoraram a decisão, mas ainda esperam que a estrutura seja removida completamente e prometem continuar com seus protestos semanais – que acontece todas as sextas-feiras. Eles costumavam caminhar até a cerca – alguns de forma pacífica e outros atiravam pedras nos soldados israelenses. Os atritos provocaram feridas em ambos lados.
“Fico feliz, mas ainda estamos longe do que procuramos e queremos alcançar, porque a maior parte das terras da vila ainda estão confiscadas pela nova rota”, disse Mohammed Khatib, coordenador do movimento de resistência popular de Bilin.
“Esperamos que o cumprimento da sentença judicial dê fim aos enfrentamentos e atritos que vemos todos os dias”, disse o Ministério da Defesa de Israel a Carta Capital.
Oliveiras e casas
O exército israelense anunciou que replantará dezenas de oliveiras no território em disputa, conforme a petição que os moradores palestinos encaminharam à Suprema Corte, pois muitas árvores foram retiradas com a construção do muro.
O comitê popular de Bilin, porém, planeja começar amanhã uma nova forma de protesto: levantar construções na terra devolvida. “A ideia é deixar fatos concretos sobre o terreno e começar a construir casas nas nossas terras entre a cerca e o muro”, disse Khatib ao jornal Ynet.
Já o morador palestino, Haitham Al Khatib, explicou a Carta Capital que os fazendeiros pretendem levantar casas sobre suas propriedades, mas tampouco vão encher o campo. “Como as propriedades são extensas, será uma casa aqui, outra ali”, disse Al Khatib.
O ativista da esquerda israelense, Jonathan Pollak, avalia que as FDI não poderão evitar as novas construções dos palestinos, mesmo que o vilarejo de Bilin esteja na zona B –área sob os auspícios de Israel. “Se o exército nos impedir na sexta-feira, voltaremos e construiremos no sábado”, disse Pollak a jornais locais.
| Link: | |
| Esconder link da mensagem |
-
Carnage
- Forista
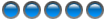
- Mensagens: 14726
- Registrado em: 06 Jul 2004, 20:25
- ---
- Quantidade de TD's: 663
Ver TD's
Re: 15 de Maio, a "Terceira Intifada" Palestina
http://noticias.uol.com.br/blogs-coluna ... o-mar.jhtm
Israel está à deriva e sozinho no mar
Thomas L. Friedman
Eu nunca estive tão preocupado com o futuro de Israel. Os pilares-chave que estão ruindo da segurança de Israel –a paz com o Egito, a estabilidade com a Síria e a amizade com a Turquia e a Jordânia– somados ao governo mais diplomaticamente inepto e estrategicamente incompetente na história de Israel, colocaram o país em uma situação muito perigosa.
Isso também deixou o governo americano cheio da liderança de Israel, mas refém de sua inépcia, porque o poderoso lobby pró-Israel em um período eleitoral pode forçar o governo a defender Israel na ONU, mesmo quando sabe que Israel está buscando políticas que não são de seu próprio interesse e nem dos Estados Unidos.
Israel não é responsável pela derrubada do presidente do Egito, Hosni Mubarak, nem pelo levante na Síria ou pela decisão da Turquia de buscar a liderança regional, ao criticar cinicamente Israel, ou pela divisão do movimento nacional palestino entre a Cisjordânia e Gaza. O que o primeiro-ministro de Israel, Bibi Netanyahu, é responsável é por fracassar em implantar uma estratégia para responder a tudo isso de uma forma que protegesse os interesses a longo prazo de Israel.
OK, Netanyahu tem uma estratégia: não fazer nada em relação aos palestinos ou à Turquia que o obrigue a ir contra sua base, fazer concessões em sua ideologia ou antagonizar seu principal parceiro de coalizão, o ministro das Relações Exteriores, Avigdor Lieberman, de extrema direita. E então pedir aos Estados Unidos que impeçam o programa nuclear do Irã e ajudem Israel a sair de todo apuro, mas assegurando que o presidente Barack Obama não peça nada em troca –como suspender os assentamentos israelenses– mobilizando os republicanos no Congresso para tolherem Obama e encorajando os líderes judeus a sugerirem que Obama é hostil em relação a Israel, perdendo assim os votos dos judeus. Ao mesmo tempo, fazendo com que o lobby pró-Israel ataque qualquer um no governo ou no Congresso que diga em voz alta que talvez Bibi tenha cometido alguns erros, não apenas Barack. Pronto, quem disse que Netanyahu não tem uma estratégia?
“O esforço diplomático de anos para integrar Israel como um vizinho aceito no Oriente Médio ruiu nesta semana, com a expulsão dos embaixadores israelenses de Ancara e do Cairo, e a evacuação às pressas dos funcionários da embaixada em Amã”, escreveu Aluf Benn, do jornal “Haaretz”. “A região está expulsando o Estado judeu, que está cada vez mais se fechando atrás de seus muros fortificados, sob uma liderança que recusa qualquer mudança, movimento ou reforma. (...) Netanyahu demonstrou completa passividade diante das mudanças dramáticas na região, permitindo que seus rivais tomassem a iniciativa e estabelecessem a agenda.”
O que Israel poderia ter feito? A Autoridade Palestina, que deu grandes passos concretos nos últimos cinco anos para desenvolvimento de instituições e forças de segurança de um Estado na Cisjordânia –tornando a vida lá mais tranquila do que nunca para Israel– finalmente disse para si mesma: “Nossa construção de Estado não levou Israel a suspender os assentamentos ou a promover passos para a separação, de modo que tudo o que estamos fazendo é sustentar a ocupação por Israel. Vamos à ONU, ser reconhecidos como um Estado dentro das fronteiras de 1967 e lutar com Israel dessa forma”, Assim que isso ficou claro, Israel deveria ter tentado apresentar seu próprio plano de paz ou moldar a diplomacia na ONU com sua própria resolução, uma que reafirmasse o direito tanto do povo palestino quanto do povo judeu a um Estado na Palestina histórica e retomar as negociações.
Netanyahu não fez nenhum. Agora os Estados Unidos estão se esforçando para desarmar a crise, para que não tenham que vetar na ONU o Estado palestino, o que seria desastroso em um mundo árabe cada vez mais se movendo na direção de um governo próprio mais popular.
Na Turquia, a equipe Obama e os advogados de Netanyahu trabalharam incansavelmente nos últimos dois meses para solucionar a crise nascida da morte de civis turcos por comandos israelenses em maio de 2010, em uma flotilha de ajuda humanitária turca que tentou imprudentemente chegar até Gaza. A Turquia exigia um pedido de desculpas. Segundo um longo artigo a respeito das negociações, de autoria do colunista israelense Nahum Barnea, do jornal “Yediot Aharonot”, os dois lados concordaram que Israel pediria desculpas apenas por “erros operacionais” e que os turcos concordariam em não impetrar processos na Justiça. Bibi então passou por cima de seus próprios advogados e rejeitou o acordo, por orgulho nacional e medo de que Lieberman usasse isso contra ele. Assim, a Turquia expulsou o embaixador israelense.
Quanto ao Egito, a estabilidade partiu dali e qualquer novo governo egípcio estará sujeito a pressões mais populistas a respeito de Israel. Parte disso é inevitável, mas por que não ter uma estratégia para minimizar isso, com Israel colocando na mesa um verdadeiro roteiro para a paz?
Eu tenho grande empatia pelo dilema estratégico de Israel e nenhuma ilusão a respeito de seus inimigos. Mas atualmente Israel não está dando aos seus amigos –e Obama é um deles– nada para que possam defendê-lo. Israel pode lutar com todo mundo ou pode escolher não se render, mas enfraquecendo essas tendências com uma abertura para a paz que pessoas razoáveis reconheçam como sendo séria, reduzindo assim seu isolamento.
Infelizmente, Israel atualmente não possui um líder ou um Gabinete capaz de uma diplomacia sutil. Só é possível esperar que o povo israelense reconheça isso antes que este governo jogue Israel em um isolamento global mais profundo e arraste os Estados Unidos consigo.
Thomas L. Friedman
Colunista de assuntos internacionais do New York Times desde 1995, Friedman já ganhou três vezes o prêmio Pulitzer de jornalismo.
Tradução: George El Khouri Andolfato
| Link: | |
| Esconder link da mensagem |
-
Compson
- Forista
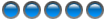
- Mensagens: 6415
- Registrado em: 21 Nov 2003, 18:29
- ---
- Quantidade de TD's: 135
Ver TD's
Re: 15 de Maio, a "Terceira Intifada" Palestina
É bem possível que a Assembleia da ONU aprove o Estado Palestino... Ainda assim os yankees têm poder de veto no Conselho de Segurança...
Eleições mundiais para o Conselho de Segurança já!
Eleições mundiais para o Conselho de Segurança já!
| Link: | |
| Esconder link da mensagem |
Re: 15 de Maio, a "Terceira Intifada" Palestina
http://diplomatique.uol.com.br/artigo.php?id=407
POR TRÁS DOS FATOS
Como surgiu o povo judeu?
O ataque israelense contra a frota internacional que levava ajuda humanitária ao território de Gaza - no qual morreram 9 pessoas – foi alvo de críticas de toda a comunidade internacional. Para entender melhor a situação na região, leia o artigo publicado no Le Monde Diplomatique Brasil sobre a história de Israel
por Shlomo Sand
Após 60 anos recém-completos, a historiografia de Israel amadureceu muito pouco e, aparentemente, não evoluirá em curto prazo. Porém, os fatos revelados por novas pesquisas sobre o passado judaico e sionista colocam para todo historiador honesto questões fundamentais, ainda que surpreendentes numa primeira abordagem.
Qualquer israelense sabe que o povo judeu existe desde a entrega da Torá1 no monte Sinai e se considera seu descendente direto e exclusivo. Todos estão convencidos de que os judeus saíram do Egito e se fixaram na Terra Prometida, onde edificaram o glorioso reino de Davi e Salomão, posteriormente dividido entre Judéia e Israel. E ninguém ignora o fato de que esse povo conheceu o exílio em duas ocasiões: depois da destruição do Primeiro Templo, no século VI a.C., e após o fim do Segundo Templo, em 70 d.C.
Foram quase 2 mil anos de errância desde então. A tribulação levou-os ao Iêmen, ao Marrocos, à Espanha, à Alemanha, à Polônia e até aos confins da Rússia. Felizmente, eles sempre conseguiram preservar os laços de sangue entre as comunidades, tão distantes umas das outras, e mantiveram sua unicidade.
As condições para o retorno à antiga pátria amadureceram apenas no final do século XIX. O genocídio nazista, porém, impediu que milhões de judeus repovoassem naturalmente Eretz Israel, a terra de Israel, um sonho de quase 20 séculos.
Virgem, a Palestina esperou que seu povo original regressasse para florescer novamente. A região pertencia aos judeus, e não àquela minoria desprovida de história que chegou lá por acaso. Por isso, as guerras realizadas a partir de 1948 pelo povo errante para recuperar a posse de sua terra foram justas. A oposição da população local é que era criminosa.
De onde vem essa interpretação da história judaica, amplamente difundida e resumida acima?
Trata-se de uma obra do século XIX, feita por talentosos reconstrutores do passado cuja imaginação fértil inventou, sobre a base de pedaços da memória religiosa judaico-cristã, um encadeamento genealógico contínuo para o povo judeu. Claro, a abundante historiografia do judaísmo comporta abordagens plurais, mas as concepções essenciais elaboradas nesse período nunca foram questionadas.
Paralisia unilateral
Quando apareciam descobertas suscetíveis de contradizer a imagem do passado linear, elas praticamente não tinham eco. Como um maxilar solidamente fechado, o imperativo nacional bloqueava qualquer espécie de contradição ou desvio em relação ao relato dominante. E as instâncias específicas de produção do conhecimento sobre o passado judeu contribuíram muito para essa curiosa paralisia unilateral: em Israel, os departamentos exclusivamente dedicados ao estudo da “história do povo judeu” são bastante distintos daqueles da chamada “história geral”. Nem o debate de caráter jurídico sobre “quem é judeu” preocupou esses historiadores: para eles, é judeu todo descendente do povo forçado ao exílio há 2 mil anos.
Esses pesquisadores “autorizados” tampouco participaram da controvérsia trazida pela revisão histórica do fim dos anos 1980. A maioria dos atores desse debate público veio de outras disciplinas ou de horizontes extra-universitários, inclusive de fora de Israel: foram sociólogos, orientalistas, lingüistas, geógrafos, especialistas em ciência política, pesquisadores em literatura e arqueólogos que formularam novas reflexões sobre o passado judaico e sionista. Dos “departamentos de história judaica” só surgiram rumores temerosos e conservadores, revestidos por uma retórica apologética baseada em idéias preconcebidas.
Ou seja, após 60 anos recém-completos, a historiografia de Israel amadureceu muito pouco e, aparentemente, não evoluirá em curto prazo. Porém, os fatos revelados pelas novas pesquisas colocam para todo historiador honesto questões fundamentais, ainda que surpreendentes numa primeira abordagem.
Considerar a Bíblia um livro de história é uma delas. Os primeiros historiadores judeus modernos, como Isaak Markus Jost e Léopold Zunz, não encaravam o texto bíblico dessa forma no começo do século XIX: a seus olhos, o Antigo Testamento se apresentava como um livro de teologia constitutivo das comunidades religiosas judaicas depois da destruição do Primeiro Templo. Foi preciso esperar até 1850 para encontrar historiadores como Heinrich Graetz, que teve uma visão “nacional” da Bíblia. A partir daí, a retirada de Abraão para Canaã, a saída do Egito e até o reinado unificado de Davi e Salomão foram transformados em relatos de um passado autenticamente nacional. Desde então, os historiadores sionistas não deixaram de reiterar essas “verdades bíblicas”, que se tornaram o alimento cotidiano da educação israelense.
Mas eis que, ao longo dos anos 1980, a terra treme, abalando os mitos fundadores. Novas descobertas arqueológicas contradizem a possibilidade de um grande êxodo no século XIII antes da nossa era. Da mesma forma, Moisés não poderia ter feito os hebreus saírem do Egito nem tê-los conduzido à “terra prometida” pelo simples fato de que, naquela época, a região estava nas mãos dos próprios egípcios! Aliás, não existe nenhum traço de revolta de escravos no reinado dos faraós nem de uma conquista rápida de Canaã por estrangeiros.
O exílio de poucos
Tampouco há sinal ou lembrança do suntuoso reinado de Davi e Salomão. As descobertas da década passada mostram a existência de dois pequenos reinos: Israel, o mais potente, e a Judéia, cujos habitantes não sofreram exílio no século VI a.C. Apenas as elites políticas e intelectuais tiveram de se instalar na Babilônia, e foi desse encontro decisivo com os cultos persas que nasceu o monoteísmo judaico.
E o exílio do ano 70 d.C. teria efetivamente acontecido? Paradoxalmente, esse “evento fundador” da história dos judeus, de onde a “diáspora” tira sua origem, não rendeu sequer um trabalho de pesquisa.
E por uma razão bem prosaica: os romanos nunca exilaram povo nenhum em toda a porção oriental do Mediterrâneo. Com exceção dos prisioneiros reduzidos à escravidão, os habitantes da Judéia continuaram a viver em suas terras mesmo após a destruição do Segundo Templo.
Uma parte deles se converteu ao cristianismo no século IV, enquanto a maioria aderiu ao Islã durante a conquista árabe do século VII. E os pensadores sionistas não ignoravam isso: tanto Yitzhak ben Zvi, futuro presidente de Israel, quanto David ben Gurion, fundador do país, escreveram sobre isso até 1929, ano da grande revolta palestina. Ambos mencionam, em várias ocasiões, o fato de que os camponeses da Palestina eram os descendentes dos habitantes da antiga Judéia2.
Mas, na falta de um exílio a partir da Palestina romanizada, de onde vieram os judeus que povoaram o perímetro do Mediterrâneo desde a Antigüidade? Por trás da cortina da historiografia nacional se esconde uma surpreendente realidade histórica: do levante dos macabeus, no século II a.C., à revolta de Bar Kokhba, no século II d.C., o judaísmo foi a primeira religião prosélita. Nesse período, a dinastia dos hasmoneus converteu à força os idumeus do sul da Judéia e os itureus da Galiléia, anexando-os ao “povo de Israel”. Partindo desse reino judeu-helenista, o judaísmo se espalhou por todo o Oriente Médio e pelo perímetro mediterrâneo. Assim, no primeiro século de nossa era surgiu o reinado judeu de Adiabena, no território do atual Curdistão, e a ele seguiram-se alguns outros com as mesmas características.
Os escritos de Flávio Josefo são apenas um dos testemunhos do ardor prosélito dos judeus: de Horácio a Sêneca, de Juvenal a Tácito, vários escritores latinos expressaram seu temor sobre a prática da conversão, autorizada pela Mixná e pelo Talmude3.
A expansão para o leste europeu
No começo do século IV, o êxito da religião de Jesus não colocou fim à expansão do judaísmo, mas empurrou seu proselitismo para as margens do mundo cultural cristão. Cem anos depois, surgiu o vigoroso reino judeu de Himiar, onde atualmente está o Iêmen. Seus descendentes mantiveram a fé judaica após a expansão do Islã e preservam-na até os dias de hoje. Da mesma forma, os cronistas árabes nos contam sobre a existência de tribos berberes judaizadas: contra a pressão árabe sobre a África do Norte no século VII, surgiu a figura lendária da rainha judia Dihya-el-Kahina. Em seguida, esses berberes judaizados participaram da conquista da península Ibérica e estabeleceram ali os fundamentos da simbiose particular entre judeus e muçulmanos, característica da cultura hispano-arábe.
A conversão em massa mais significativa ocorreu, no entanto, entre o mar Negro e o mar Cáspio, no imenso reino Cazar do século VIII. A expansão do judaísmo do Cáucaso até as terras que hoje pertencem à Ucrânia engendrou várias comunidades que seriam expulsas para o Leste Europeu pelas invasões mongóis do século XIII. Lá, os judeus vindos das regiões eslavas do sul e dos atuais territórios alemães estabeleceram as bases da grande cultura ídiche4.
Esses relatos sobre as origens plurais dos judeus figuram, de forma mais ou menos hesitante, na historiografia sionista até o início dos anos 1960. Depois disso, foram progressivamente marginalizados e, por fim, desapareceram totalmente da memória pública israelense. Afinal, os conquistadores de Jerusalém em 1967 deveriam ser os descendentes diretos de seu reinado mítico, e não de guerreiros berberes ou cavaleiros cazares. Com isso, os judeus assumiram a figura de éthnos específico que, depois de 2 mil anos de exílio e errância, voltava para a sua capital.
E os defensores desse relato linear e indivisível não mobilizam apenas o ensino de história: eles
convocam igualmente a biologia. Desde os anos 1970, uma sucessão de pesquisas “científicas” israelenses se esforça para demonstrar, por todos os meios, a proximidade genética dos judeus do mundo inteiro. A “pesquisa sobre as origens das populações” representa hoje um campo legítimo e popular da biologia molecular, e o cromossomo Y masculino ganhou um lugar de honra ao lado de uma Clio judia na busca desenfreada pela unicidade do “povo eleito”.
Essa concepção histórica constitui a base da política identitária do Estado de Israel e é exatamente seu ponto fraco. Ela se presta efetivamente a uma definição essencialista e etnocentrista do judaísmo, alimentando uma segregação que mantém a distância entre judeus e não-judeus.
Israel, 60 anos depois de sua fundação, não aceita conceber-se como uma república que existe para seus cidadãos. Quase um quarto deles não é considerado judeu e, de acordo com o espírito de suas leis, esse Estado não lhes pertence. Ao mesmo tempo, Israel se apresenta como o Estado dos judeus do mundo todo, mesmo que não eles não sejam mais refugiados perseguidos, e sim cidadãos com plenos direitos, vivendo como iguais nos países onde residem. Em outras palavras, um etnocentrismo sem fronteiras serve de justificativa para uma severa discriminação ao invocar o mito da nação eterna, reconstituída para se reunir na “terra dos antepassados”.
Escrever uma nova história judaica, para além do prisma sionista, não é tarefa fácil. A luz que se refrata ao passar por esse prisma se transforma, insistentemente, em cores etnocêntricas. Mas, se os judeus sempre formaram comunidades religiosas em diversos lugares e elas foram, com freqüência, constituídas pela conversão, obviamente não existe um éthnos portador de uma mesma origem, de um povo errante que teria se deslocado ao longo de 20 séculos.
Sabemos que o desenvolvimento de toda historiografia e, de maneira geral, da modernidade passa pela invenção do conceito de nação, que ocupou milhões de seres humanos nos séculos XIX e XX. Recentemente, porém, esses sonhos começaram a ruir. Cada vez mais pesquisadores analisam, dissecam e desconstroem os grandes relatos nacionais e, principalmente, os mitos da origem comum, caros aos cronistas do passado. Certamente os pesadelos identitários de ontem darão espaço, amanhã, a outros sonhos de identidade. Assim como toda personalidade é feita de identidades fluidas e variadas, a história também é uma identidade em movimento
Shlomo Sand é historiador, professor da Universidade de Tel-Aviv e autor de Comment le peuple juif fut inventé (Como foi inventado o povo judeu), Paris, Fayard, 2008.
1 Texto fundador do judaísmo, a Torá é composta pelos cinco primeiros livros da Bíblia, ou Pentateuco: Gênese, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
2 Cf. David ben Gurion e Yitzhak ben Zvi, Eretz Israel no passado e no presente (1918, em ídiche), Jerusalém, Yitzhak ben Zvi, 1980 (em hebraico), e Yitzhak ben Zvi, Nossa população no país (em hebraico), Varsóvia, O Comitê Executivo da União da Juventude e o Fundo Nacional Judeu, 1929.
3 A Mixná, considerada como a primeira obra de literatura rabínica, foi concluída no século II d.C. O Talmude sintetiza o conjunto dos debates rabínicos referindo-se à lei, aos costumes e à história dos judeus. Há dois Talmudes: o da Palestina, escrito entre os séculos III e V, e o da Babilônia, concluído no fim do século V.
4 Falado pelos judeus da Europa oriental, o ídiche é uma língua eslavo-alemã com palavras vindas do hebraico.
| Link: | |
| Esconder link da mensagem |
-
- Tópicos Semelhantes
- Respostas
- Exibições
- Última mensagem
-
- 11 Respostas
- 3636 Exibições
-
Última mensagem por Dr Trozoba
-
- 8 Respostas
- 4256 Exibições
-
Última mensagem por Connor
-
- 24 Respostas
- 7830 Exibições
-
Última mensagem por marcaocampeao1999
